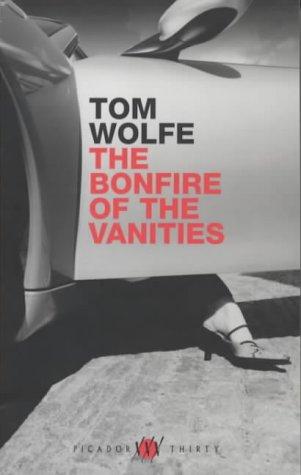Parece que a música dos Xutos, Sr. Engenheiro, não passa nas rádios portuguesas. Os argumentos são vários - a música não tem suporte em vídeo, o papel das rádios não é intervenção, muito menos intervenção política (este argumento, dado pela Mega, irrita-me um bocadinho, devo confessar). Mais triste, ou interessante, dependendo do ponto de vista, é alguém como Pedro Abrunhosa, que teve uma entrada fulgurante na música portuguesa por, precisamente, e nas suas próprias palavras, "intervir com a música", não ter nada a dizer. Lembro-me agora de que a última vez que ouvi Pedro Abrunhosa a cantar deve ter sido no anúncio, já algo longínquo, do BCP. Mudam-se os tempos e, de facto, também as vontades, sem dúvida alguma.
Mas enfim. Houve censura à música dos Xutos? Não sei. Mas sei que os representantes das rádios mencionados pelo Expresso me pareceram demasiadamente evasivos sobre um assunto que deveriam levar muito a peito. E tudo isto me fez pensar noutras coisas. Lembro-me, por exemplo, do Álbum das Glórias, de Rafael Bordalo Pinheiro, e da sátira demolidora e hilariante à sociedade e à política portuguesas da altura (século XIX, recorde-se). De Sua Alteza, o Infante Augusto Fernando Miguel Luís Tiago Rafael de Gonzaga e Bragança e Albuquerque de Fonseca e Vasconcellos Boto Mello (estou a inventar os nomes, é claro), Rafael Bordalo Pinheiro indica o nome e depois diz apenas que nasceu. É este o único acontecimento digno de nota na vida de S. Alteza.
Gosto de pensar, em alturas como esta, como seria recebido o Álbum das Glórias no Portugal de 2009. Se seria tolerado, se as pessoas o leriam para se rirem com ele, ou se saberíamos da existência do Álbum apenas por uma breve notícia no Expresso: "livrarias não põem à venda Álbum das Glórias, de Rafael Bordalo Pinheiro. Bordalo Pinheiro diz que parece um complô, livreiros não comentam, escritores não comentam, leitores não comentam, ninguém comenta".
Afasto rapidamente este pensamento da minha mente, primeiro porque os Contemporâneos estão a começar, segundo porque Bordalo Pinheiro censurado em Portugal, em 2009, é assim orwelliano demais. Nunca aconteceria. Acho mesmo que não.